
Logo que cheguei a Angola fui viver, numa fazenda de café, entre grandes árvores centenárias, entre os morros do Amboim, Cuanza Sul, perto das belas cachoeiras (quedas de água) que se situavam entre a Gabela e Novo Redondo, actual “Sumbe”. Ali, o ar e as águas eram puras e os únicos barulhos que se ouviam eram os cantares dos belos pássaros que nidificavam por entre a ramagem das palmeiras, dos banzes, bananeiras, taculas, mulembas e cafeeiros.
Aquela era uma zona de muito cacimbo (nevoeiro). Nalgumas manhãs, ele era tão denso que apenas se conseguia vislumbrar o que quer que fosse a uma distância de vinte metros.
Só por volta do meio-dia, quando o Sol rompia víamos aquelas árvores repletas de pombos verdes. Eram tantos que por vezes havia árvores que continham mais pombos do que folhas. Estes viajavam em tão grande velocidade que perante o cacimbo não tinham tempo de parar antes de embaterem contra a nossa casa, que com a sua parede branquinha se confundia com o nevoeiro e acabavam por morrer.
De vez em quando, víamos passar por entre a selva, com plantações de café por baixo de arvoredo de grande porte, um comboio movido a lenha que fazia o trajecto de Porto Amboim à cidade da Gabéla, transportando mercadorias e pessoal. Embora fosse muito lento, este dava uma imagem bonita por entre a selva da montanha, conhecida como “Os morros do Amboim”.
Ali, na fazenda “Quitona” dependência da sede do “Congulo”, estávamos no mato, isolados de toda a civilização, não havia sequer uma escola por perto.
Ali existiam muitos tipos de animais selvagens. Desde javalis, veados, galinhas do mato até milhares de macacos de várias raças.
Lembro-me que um dia, eu, as minhas irmãs e uns amigos negros, entrámos pela mata adentro e por cima de uma enorme laje, na qual estavam sobrepostas outras grandes pedras com cerca de quarenta metros de altura, vimos um vulto branco que se deslocava constantemente sem sair da laje. Passado pouco tempo, notámos que era um grande macaco, talvez pertencente à família dos chimpanzés e, tal como existem pessoas Albinas, também ele o seria e viveria solitariamente por ter sido expulso do clã.
(Isto foi o que eu deduzi).
Passados mais uns quatro anos o meu pai deixou de trabalhar para esse patrão e foi trabalhar alguns meses por conta de seu irmão (Carlos dos Santos Sousa) na Quilenda, mas logo descobriu, no lugar do Lundo, mais propriamente junto à “sanzala Cananguena” junto ao rio N’hia, numa das savanas angolanas, uma fazenda com cem hectares, de um proprietário, que se encontrava abandonada.
Aí ficámos até Junho 1975, data em que tudo tivemos que abandonar.
Durante os cinco anos que vivi nas fazendas de Mário da Cunha, eu tinha poucos amigos para conviver, mas na Cananguena tudo mudara: havia muitos adolescentes da minha idade: rapazes e raparigas de raça negra. Como sempre fui de fácil acesso à integração nas comunidades onde vivo, também ali não foi excepção.
Aquela aldeia “Cananguena” como todas outras das savanas ou da selva, era constituída por casas, na sua maioria em forma de círculo, e de paus juntos espetados nos quais era chapada terra misturada com capim seco, que ajudava na consistência da parede, e água, amassada com os pés. A cobertura das casas era feita, também, com paus em forma de cone, que, em vez dos pregos, eram atados com cordas feitas de fibras do caule de árvores: Mulemba, Palmeira ou até mesmo do capim seco entrançado.
Depois eram sobrepostos, sobre essa cobertura de paus, capim ou ramagem de palmeira e assim se formava o tecto.
Alguns porém, já utilizavam a forma de blocos: numa forma, construída de madeira, com quarenta centímetros, quinze de largura e vinte de altura, era colocada aquela massa de terra, puxava-se a forma e logo de seguida fazia-se o mesmo e assim sucessivamente faziam-se centenas de blocos com os quais se erguiam as paredes. Estes blocos eram assentes uns sobre outros unidos com a mesma terra da qual foram construídos. As coberturas, também, eram feitas com paus e capim ou rama de palmeira. Estas casas já eram menos toscas mas, também elas, se enquadravam muito bem na savana, na selva, não destruindo assim, aquele habitat onde tudo era natural.
Era naquela aldeia, com os meus amigos de raça negra, que eu brincava, crescia e aprendia todos os segredos das savanas e selvas africanas. Era também com eles que ouvíamos as estações de rádio que transmitiam muita música de cantores angolanos e cabo-verdianos Eu sou branco por fora, mas, sinto-me negro por dentro.
Com os meus amigos aprendi e acompanhei os seus rituais, a falar Kimbundo e a comer à mão o Funge (pirão) com kuizaca da rama de mandioca, calúlú de rama de batata-doce, quiabos, gimboa, beringelas etc. etc.
Sentia-me um jovem feliz, como todos os outros, éramos livres… éramos a savana e a selva, e, a savana e a selva não tinham sentido sem nós.
Ai que saudades eu sinto destes sabores! Dos sabores… do cheiro, do clima tropical, da chuva quente, de sentir a terra vermelha nas solas dos pés, do chilrear dos pássaros, dos gritos dos macacos, do roncar do javali e da onça (gato do tamanho de um cão grande parecido com um leopardo e muito perigoso), saudades de ouvir e ver as quedas de água (cachoeiras) do rio onde se formava um arco – íris sobre as partículas de água que se projectavam no ar em forma de nevoeiro. Saudades do nascer e por do Sol. Saudades, mas muitas saudades, dos meus colegas e amigos a quem ensinei a ler e a escrever.
Ali não havia pressa para nada. Não precisávamos de relógio. Comia-se quando se tinha vontade.
Dançava-se Kizomba nas clareiras, em frente das casas, por baixo das copas de grandes árvores.
Nos fins-de-semana à noite havia farra, kizomba, ao som de instrumentos, berimbau, batuque, réco-réco, construídos pelos próprios músicos. Até latas serviam para criar sons e dançar toda a noite.
São tantas as saudades que tenho dessas grandes farras na minha idade dos 15 aos 22 anos, onde o ambiente era de pura felicidade e todos iguais.
Não havia preconceitos e dançavam eroticamente, numa grande clareira onde a luz era dada por uma grande fogueira. Aquele era o verdadeiro mundo criado por Deus. Todo aquele povo era um povo humilde.
Nas árvores e caniços das bordas dos rios e ribeiros, os pássaros construíam milhares de ninhos. Havia, mesmo, árvores que chegavam a ter mais ninhos do que folhas. Esses ninhos eram construídos por artesãos que o ser humano não tinha capacidade de entender. Como é que um pássaro consegue entrançar tão bem aquela palha?
Tinham a forma de uma cabaça, ou, de um balão. No topo deixavam-lhe um buraco e era-lhe feito um tubo, com cerca de trinta centímetros, curvo, virado para baixo. Toda a construção era feita de palha “capim” e no seu interior, onde punham os ovos, era colocado algodão ou um material idêntico que era recolhido de uma outra árvore ou da Palmeira.
Eram milhares de filhotes que com os pais produziam sons ao estilo da fauna Africana.
Havia centenas de espécies de pássaros, uns construíam os ninhos nesses ditos arbustos, outros faziam-nos nas Palmeiras, tudo dependia da espécie de pássaro. Havia ainda outros que abriam buracos nos troncos das árvores e lá colocavam os seus ninhos. Havia também nas savanas várias espécies de formigas, das quais vou de uma:
A formiga que depois de nascer “criava” asas para as utilizar somente em dez segundos. Era conhecida por “Salalé”. Esta formiga percorria a savana na busca de folhas e derivados, para o seu sustento.
Mas abria na terra autênticas “cidades” que chegavam a atingir uma profundidade de três metros e uma largura de metro e pouco.
A terra era colocada fora por cima da mesma “cidade”, deixando-lhes orifícios por onde entravam. Esse amontoado poderiam atingir mais de dois metros de altura, e formavam-se, nesses locais, centenas deles, de tal forma que, poderíamos compará-los com uma cidade erguida pelo homem, constituída por prédios de trezentos e tal metros de altura.
Lá no fundo, no buraco, faziam corredores em forma de espiral que podiam atingir um percurso de um quilómetro, deixando, de vinte em vinte centímetros um buraco que daria para salas: “galerias”, onde depositavam os alimentos para entrarem em decomposição.
Numa dessas galerias residia uma formiga que era a rainha-mãe. Não se podia mover porque tinha uma grande barriga repleta de ovos.
Só ela é que punha ovos e todos os dias, as outras formigas, tinham que transportar esses ovos e colocá-los nas galerias junto do alimento que, em decomposição já tinha fungo e estava destinado ao aquecimento dos mesmos e a alimentar os recém nascidos.
Após as primeiras chuvas saíam aos milhões e logo depois de terem sido projectadas no ar formavam uma nuvem e 10 segundos depois perdiam as asas e caiam para dias depois voltarem a ser o que são: as que trabalharam para a sua existência.
No entanto, dos milhões, poucas tinham essa sorte, pois ao saírem do fundo da terra, de onde foram geradas, muita passarada sobrevoava aquele lugar e comia-as.
Havia ainda outro contra para aquela formiga: os meus amigos negros, levavam com eles recipientes com tampa e quando as viam sair pelos orifícios do amontoado, apanhavam-nas e/ou metiam-nas aos punhados na boca e comiam-nas, ou levavam esse, recipiente, cheio para casa e fritavam-nas com óleo de palma, servindo assim de conduto para molhar o pirão.
Este episódio faz parte de outros mais, que poderão ler no meu blog, e que me fazem sentir o deseijo de ser “selvagem”.
Aquela era uma zona de muito cacimbo (nevoeiro). Nalgumas manhãs, ele era tão denso que apenas se conseguia vislumbrar o que quer que fosse a uma distância de vinte metros.
Só por volta do meio-dia, quando o Sol rompia víamos aquelas árvores repletas de pombos verdes. Eram tantos que por vezes havia árvores que continham mais pombos do que folhas. Estes viajavam em tão grande velocidade que perante o cacimbo não tinham tempo de parar antes de embaterem contra a nossa casa, que com a sua parede branquinha se confundia com o nevoeiro e acabavam por morrer.
De vez em quando, víamos passar por entre a selva, com plantações de café por baixo de arvoredo de grande porte, um comboio movido a lenha que fazia o trajecto de Porto Amboim à cidade da Gabéla, transportando mercadorias e pessoal. Embora fosse muito lento, este dava uma imagem bonita por entre a selva da montanha, conhecida como “Os morros do Amboim”.
Ali, na fazenda “Quitona” dependência da sede do “Congulo”, estávamos no mato, isolados de toda a civilização, não havia sequer uma escola por perto.
Ali existiam muitos tipos de animais selvagens. Desde javalis, veados, galinhas do mato até milhares de macacos de várias raças.
Lembro-me que um dia, eu, as minhas irmãs e uns amigos negros, entrámos pela mata adentro e por cima de uma enorme laje, na qual estavam sobrepostas outras grandes pedras com cerca de quarenta metros de altura, vimos um vulto branco que se deslocava constantemente sem sair da laje. Passado pouco tempo, notámos que era um grande macaco, talvez pertencente à família dos chimpanzés e, tal como existem pessoas Albinas, também ele o seria e viveria solitariamente por ter sido expulso do clã.
(Isto foi o que eu deduzi).
Passados mais uns quatro anos o meu pai deixou de trabalhar para esse patrão e foi trabalhar alguns meses por conta de seu irmão (Carlos dos Santos Sousa) na Quilenda, mas logo descobriu, no lugar do Lundo, mais propriamente junto à “sanzala Cananguena” junto ao rio N’hia, numa das savanas angolanas, uma fazenda com cem hectares, de um proprietário, que se encontrava abandonada.
Aí ficámos até Junho 1975, data em que tudo tivemos que abandonar.
Durante os cinco anos que vivi nas fazendas de Mário da Cunha, eu tinha poucos amigos para conviver, mas na Cananguena tudo mudara: havia muitos adolescentes da minha idade: rapazes e raparigas de raça negra. Como sempre fui de fácil acesso à integração nas comunidades onde vivo, também ali não foi excepção.
Aquela aldeia “Cananguena” como todas outras das savanas ou da selva, era constituída por casas, na sua maioria em forma de círculo, e de paus juntos espetados nos quais era chapada terra misturada com capim seco, que ajudava na consistência da parede, e água, amassada com os pés. A cobertura das casas era feita, também, com paus em forma de cone, que, em vez dos pregos, eram atados com cordas feitas de fibras do caule de árvores: Mulemba, Palmeira ou até mesmo do capim seco entrançado.
Depois eram sobrepostos, sobre essa cobertura de paus, capim ou ramagem de palmeira e assim se formava o tecto.
Alguns porém, já utilizavam a forma de blocos: numa forma, construída de madeira, com quarenta centímetros, quinze de largura e vinte de altura, era colocada aquela massa de terra, puxava-se a forma e logo de seguida fazia-se o mesmo e assim sucessivamente faziam-se centenas de blocos com os quais se erguiam as paredes. Estes blocos eram assentes uns sobre outros unidos com a mesma terra da qual foram construídos. As coberturas, também, eram feitas com paus e capim ou rama de palmeira. Estas casas já eram menos toscas mas, também elas, se enquadravam muito bem na savana, na selva, não destruindo assim, aquele habitat onde tudo era natural.
Era naquela aldeia, com os meus amigos de raça negra, que eu brincava, crescia e aprendia todos os segredos das savanas e selvas africanas. Era também com eles que ouvíamos as estações de rádio que transmitiam muita música de cantores angolanos e cabo-verdianos Eu sou branco por fora, mas, sinto-me negro por dentro.
Com os meus amigos aprendi e acompanhei os seus rituais, a falar Kimbundo e a comer à mão o Funge (pirão) com kuizaca da rama de mandioca, calúlú de rama de batata-doce, quiabos, gimboa, beringelas etc. etc.
Sentia-me um jovem feliz, como todos os outros, éramos livres… éramos a savana e a selva, e, a savana e a selva não tinham sentido sem nós.
Ai que saudades eu sinto destes sabores! Dos sabores… do cheiro, do clima tropical, da chuva quente, de sentir a terra vermelha nas solas dos pés, do chilrear dos pássaros, dos gritos dos macacos, do roncar do javali e da onça (gato do tamanho de um cão grande parecido com um leopardo e muito perigoso), saudades de ouvir e ver as quedas de água (cachoeiras) do rio onde se formava um arco – íris sobre as partículas de água que se projectavam no ar em forma de nevoeiro. Saudades do nascer e por do Sol. Saudades, mas muitas saudades, dos meus colegas e amigos a quem ensinei a ler e a escrever.
Ali não havia pressa para nada. Não precisávamos de relógio. Comia-se quando se tinha vontade.
Dançava-se Kizomba nas clareiras, em frente das casas, por baixo das copas de grandes árvores.
Nos fins-de-semana à noite havia farra, kizomba, ao som de instrumentos, berimbau, batuque, réco-réco, construídos pelos próprios músicos. Até latas serviam para criar sons e dançar toda a noite.
São tantas as saudades que tenho dessas grandes farras na minha idade dos 15 aos 22 anos, onde o ambiente era de pura felicidade e todos iguais.
Não havia preconceitos e dançavam eroticamente, numa grande clareira onde a luz era dada por uma grande fogueira. Aquele era o verdadeiro mundo criado por Deus. Todo aquele povo era um povo humilde.
Nas árvores e caniços das bordas dos rios e ribeiros, os pássaros construíam milhares de ninhos. Havia, mesmo, árvores que chegavam a ter mais ninhos do que folhas. Esses ninhos eram construídos por artesãos que o ser humano não tinha capacidade de entender. Como é que um pássaro consegue entrançar tão bem aquela palha?
Tinham a forma de uma cabaça, ou, de um balão. No topo deixavam-lhe um buraco e era-lhe feito um tubo, com cerca de trinta centímetros, curvo, virado para baixo. Toda a construção era feita de palha “capim” e no seu interior, onde punham os ovos, era colocado algodão ou um material idêntico que era recolhido de uma outra árvore ou da Palmeira.
Eram milhares de filhotes que com os pais produziam sons ao estilo da fauna Africana.
Havia centenas de espécies de pássaros, uns construíam os ninhos nesses ditos arbustos, outros faziam-nos nas Palmeiras, tudo dependia da espécie de pássaro. Havia ainda outros que abriam buracos nos troncos das árvores e lá colocavam os seus ninhos. Havia também nas savanas várias espécies de formigas, das quais vou de uma:
A formiga que depois de nascer “criava” asas para as utilizar somente em dez segundos. Era conhecida por “Salalé”. Esta formiga percorria a savana na busca de folhas e derivados, para o seu sustento.
Mas abria na terra autênticas “cidades” que chegavam a atingir uma profundidade de três metros e uma largura de metro e pouco.
A terra era colocada fora por cima da mesma “cidade”, deixando-lhes orifícios por onde entravam. Esse amontoado poderiam atingir mais de dois metros de altura, e formavam-se, nesses locais, centenas deles, de tal forma que, poderíamos compará-los com uma cidade erguida pelo homem, constituída por prédios de trezentos e tal metros de altura.
Lá no fundo, no buraco, faziam corredores em forma de espiral que podiam atingir um percurso de um quilómetro, deixando, de vinte em vinte centímetros um buraco que daria para salas: “galerias”, onde depositavam os alimentos para entrarem em decomposição.
Numa dessas galerias residia uma formiga que era a rainha-mãe. Não se podia mover porque tinha uma grande barriga repleta de ovos.
Só ela é que punha ovos e todos os dias, as outras formigas, tinham que transportar esses ovos e colocá-los nas galerias junto do alimento que, em decomposição já tinha fungo e estava destinado ao aquecimento dos mesmos e a alimentar os recém nascidos.
Após as primeiras chuvas saíam aos milhões e logo depois de terem sido projectadas no ar formavam uma nuvem e 10 segundos depois perdiam as asas e caiam para dias depois voltarem a ser o que são: as que trabalharam para a sua existência.
No entanto, dos milhões, poucas tinham essa sorte, pois ao saírem do fundo da terra, de onde foram geradas, muita passarada sobrevoava aquele lugar e comia-as.
Havia ainda outro contra para aquela formiga: os meus amigos negros, levavam com eles recipientes com tampa e quando as viam sair pelos orifícios do amontoado, apanhavam-nas e/ou metiam-nas aos punhados na boca e comiam-nas, ou levavam esse, recipiente, cheio para casa e fritavam-nas com óleo de palma, servindo assim de conduto para molhar o pirão.
Este episódio faz parte de outros mais, que poderão ler no meu blog, e que me fazem sentir o deseijo de ser “selvagem”.
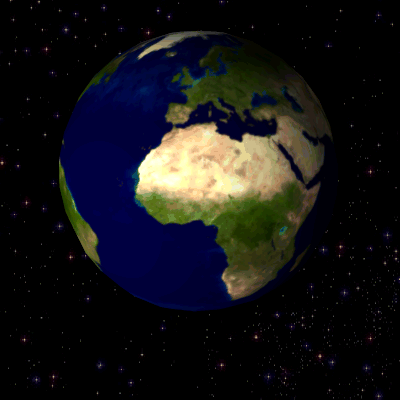


































































.jpg)





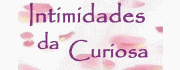



















































parabéns pelo seu blog.
ResponderEliminarJá ouviu falar dos Coutos da Gabela?. Um, o pai António Couto, um dos primeiros colonos exploradores de café portugueses terá "casado" com a filha do soba, (dono da terra)e assim explorado café... terá dado origem à exploração do café em Angola. Eram dele as fazendas de café e palmares do Congulo entre outras... O filho do António Couto, Fernando Couto, mulato, nascido da união daquele com a filha do soba Dona Maria, negra e bonita, era quem ajudava o pai e foi o primeiro economista negro nascido em Angola, formado em Portugal. Após a morte do pai, este perdeu o dominio das fazendas e fortuna nomeadamente para o Dr. Mário Cunha que terá casado se a memória não me falha com uma filha do António Couto, irmã do Fernando. o António Couto já era casado em Portugal quando veio para Angola e mais tarde teve filhas europeias que viviam na Eireira , tendo uma delas casado com o Mário Cunha. O Fernando Couto, era o mais velho e único varão, filho do António Couto que após a morte do pai perdeu as fazendas para o Mário Cunha (seu cunhado) que associado ao advogado da familia Couto, o Dr. Azaredo de Perdigão, fundador da Gulbenkian, deserdaram o Fernando, e pagaram uma indemnização às filhas do António, ficando assim com as fazendas e a herança, indemnização que Fernando jamais aceitou receber. O António Couto teve outras três filhas com a mesma e distinta senhora Angolana, que desde cedo foram enviadas pelo pai para Portugal e por lá ficaram na Quinta das Três Pretinhas, assim chamada pois eram mulatas. Morreu, o Fernando, na miséria e por orgulho. Ah, se aqueles palmares e cafezais falássem..... São essas, também, a história daquelas terras, e da passagem dos portugueses por elas.
Tentrarei pesquisar e precisar sobre a ligação do Dr. Mário Cunha aos Coutos, e contar mais algumas outras histórias, sobre aquelas terras, gentes e sua evolução. Acho que seria interessante. Até outro dia, e daqui vai um abraço fraternal para todos.
ResponderEliminar